A 'Reforma da Academia’ no Relatório do Diretor da Escola
Nacional de Belas Artes, Rodolpho Bernardelli, ao Ministro da Instrução Pública
(1891)
Camila
Dazzi *
DAZZI,
Camila. A 'Reforma da Academia’ no Relatório do Diretor da Escola Nacional de
Belas Artes, Rodolpho Bernardelli, ao Ministro da Instrução Pública (1891). 19&20,
Rio de Janeiro, v. V, n. 3, jul. 2010. Disponível em: http://www.dezenovevinte.net/ensino_artistico/rb_relatorio_1891.htm
*
* *
1. O texto que se segue tece
um breve comentário sobre o modo como a ‘Reforma da Academia’ é apresentada por
Rodolpho Bernardelli em seu
Relatório ao Ministro da Instrução Pública, Correios e Telegraphos,
João Barbalho Uchôa Cavalcanti, em maio de 1891 [cf. link]. O
documento segue disponibilizado na integra, com o intuito de facilitar o seu
acesso aos pesquisadores.[1] Para compreendermos o posicionamento de
Rodolpho Bernardelli, seja na realização do Projeto de Reforma
Bernardelli-Amoêdo (1890) [cf. link], de sua autoria em parceria com Rodolpho
Amoêdo, seja no seu Relatório ao Ministro da Instrução Pública
(1891) sobre a referida reforma, faz-se necessário, dentre outras coisas,
procurar compreender qual era o posicionamento dos jovens artistas sobre a
Academia, a arte e o seu ensino, ainda que hoje tais posicionamentos possam nos
parecer exagerados e mesmo bastante contestáveis.
2. A revisão sob a qual vem
passando nas últimas duas décadas a atuação da Academia (seus professores,
alunos, seu sistema de ensino, etc.), nos tem ensinado
que muito da visão negativa que se tem/tinha sobre ela é, em grande medida,
injustificada. Aprendemos que durante décadas vigorou na história da arte um
notório antiacademismo, popularizado pelos nossos
modernistas, ao enfatizarem uma imagem da Academia/Escola como instituição
repressora, contra a qual se opunham heroicamente.[2]
3. No entanto, ao entrarmos em
contato com os escritos sobre arte publicados no Rio de Janeiro
nas décadas finais do século XIX, é possível notar que esse antiacademismo, do qual os modernistas são culpados por
difundir, já estava presente nos debates sobre o sistema de ensino acadêmico.
Esse antiacademismo é, por exemplo, um dos poucos
traços constantes do pensamento crítico de Gonzaga
Duque e pode ser igualmente detectado no círculo de intelectuais ligados à
célebre Revista Illustrada, como Angelo Agostini.[3] O mesmo posicionamento verificamos nos
escritos de alguns artistas, dentre eles um dos autores do Projeto de Reforma
da Academia, Rodolpho Bernardelli.
4. Os mais de 100 anos que nos
separam dos acalorados debates travados, nas décadas finais do século XIX,
entorno do propósito e da existência das academias (seja no Brasil, seja na
Europa), nos permitem ver os acontecimentos de uma forma, poderíamos dizer,
'desapaixonada'. Sabemos que o ensino ministrado no interior da Academia
Imperial de Belas Artes não era tão retrógrado assim, sabemos que inovações
eram propostas no seio da instituição. Temos uma visão de conjunto,
possibilitada pela análise de documentos, de críticas de arte e pela comparação da nossa Academia com as suas
congêneres europeias. Porém, compreender o posicionamento antiacadêmico dos
artistas em finais dos Oitocentos, significa, em parte, colocarmos um pouco de
lado esse cabedal de conhecimentos, significa lembrar que os personagens dessa
história defendiam, acreditavam e lutavam por
algumas causas. Pensar que os artistas que se voltaram contra o sistema de
ensino ministrado na Academia em 1890 estavam simplesmente colocando em prática
uma estratégia, cujo propósito era conseguir afastar do cenário artístico os
antigos professores e gestores da Academia e, com isso, conseguir cargos e
garantir posição de destaque no meio artístico, é não ter em conta que, muito
possivelmente, esses jovens acreditavam no que estavam defendendo, que
acreditavam na causa pela qual estavam lutando. Se não todos, pelo menos
alguns.
5. Não estamos aqui defendendo
que devemos acreditar em tudo que lemos nos documentos e periódicos,
inocentemente, mas também não devemos crer que todo e qualquer comentário
negativo sobre a Academia é destituído de veracidade, um discurso sem
fundamentos, assumido para justificar intenções subjacentes.
6. É com esse duplo
posicionamento que acreditamos ser necessário analisar, por exemplo, o Relatório
assinado por Rodolpho Bernardelli, em 15 de maio de 1891, sobre a Reforma da
Academia, elaborado a pedido do Ministro da Instrução Pública, João Barbalho
Uchoa Cavalcanti, e a ele enviado. Para além de claramente reforçar a
importância da Reforma e o seu próprio papel dentro dela, as palavras do
escultor revelam, e de uma forma ainda bastante vivida, a forma como ele
concebia o ensino artístico ministrado na Academia .
7. No Relatório de 1891
encontramos igualmente algumas explicações para as mudanças que foram propostas
por Rodolpho Bernardelli e Amoêdo no Projeto de Reforma, de 1890, e que
tiveram continuidade nos Estatutos da Escola Nacional de Belas Artes, de
novembro daquele mesmo ano [cf. link]. Vejamos com que termos Bernardelli se
refere à antiga Academia e à sua reforma:
8. Transformação radical o
completa, mais do que simples reforma, foi o decreto de 8 de novembro.
Substituindo a Academia creou-se a Escola Nacional da
Bellas Artes, que pôde definir todo o seu programa na repulsa com que foi condennado o título pretencioso e nefastamente sugestivo de
sua antecessora. A Academia era a contemplação ritual do passado; era a
veneração do canon inviolável das convenções
plásticas dos antigos, distrahindo o espírito dos
artistas do espetáculo ensinador da natureza, era a lição tyrannica do
como viam, contrapondo-se ao ensino intuitivo e natural do como vêdes; era o academismo, em suma, com todas as
suas modestas ambições de corrigir a scena das
cousas. [...]
9. O próprio Director, que ultimamente presidia os destinos da academia,
apezar de meio vencido pelo embate dos princípios
modernos, que iam innovando no ensino alguns
professores de nomeação recente, deixava-se reconhecer, num disfarce mal arranjado dos seus preconceitos, quando escrevia no
relatório de 1888. “....a Academia das Bellas Artes,
cuja missão actual não deve ser outra mais que a de
exclusivamente votar-se ao verdadeiro culto da forma esthetica
da arte clássica e da sua propagação evolucionista fomentadora do
aperfeiçoamento da arte moderna”... a Academia era, assim, a convenção irremediavelmente
revoltada
contra a impressão.[4]
10. Poderíamos analisar vários
pontos desse trecho, como por exemplo, o uso de conceitos como Convenção e
Impressão, tão presentes nos escritos sobre arte das últimas décadas dos
Oitocentos. Mas, nos deteremos, por hora, na ideia de um ensino tirânico, no
qual o professor bloqueia a individualidade do aluno, se contrapondo a um ensino
intuitivo.
11. Rodolpho Bernardelli
demonstrou estar em sintonia com o descontentamento, de uma significativa
parcela de artistas e intelectuais europeus e norte e sul
americanos, em relação à maneira como o ensino artístico era conduzido
no interior das Academias. Em um período marcado por uma busca cada vez maior
de individualidade, originalidade e autenticidade na produção da arte, o ensino
nas academias era compreendido, por significativo percentual das figuras
envolvidas com o meio artístico, como possuidor de uma série de princípios
definidos e regras fixas que inibiam os jovens artistas de desenvolverem uma
produção pessoal[5].
12. Nessa perspectiva,
compreendia-se que o “velho sistema de ensino oficial”, precisava passar, e com
urgência, por reformas. Ao lermos textos, livros e artigos, publicados
durante e após a reforma de algumas academias na Europa, percebemos que o discurso
que as sustenta gira, em parte, entorno desse fator. Como colocou
Louis Vitet, por exemplo, em um artigo
publicado na Revue dex deux
mundes, em 1864, o fundamento do decreto de 1863,
que havia reformado a École des Baux Arts era desenvolver nos alunos a originalidade
pessoal:
13. Organiser
de telle sorte l'enseignement des arts qu'avant tout il excite et développe
chez les élèves l'originalité personnelle, telle est l'idée fondamentale, la
raison d'être du décret. Lisez-le, consultez le rapport qui lui sert de
préface, étudiez les réponses et les apologies de l'administration; partout
vous trouverez cette même pensée, que l'originalité personnelle est chez nous
en péril et qu'il faut lui porter secours. Le décret vient en aide à ces
pauvres élèves quiont vécu si longtemps sous le joug; il les arrache à la
domination d'un pouvoir immobile, inflexible, ennemi de toute indépendance,
sans égards pour les dispositions, les instincts, le sentiment individuel de
chacun de ces jeunes gens, et abusant contre eux de l'appât des récompenses jusqu'à
les faire passer dans une sorte de filière qui les façonnait tous sur un même
patron. Enfin les voilà libres! l'ère de l'originalité commence! Tel est le
signalé service que le décret, de bonne foi, croit rendre à l'art, à la
jeunesse et au génie français.[6]
14. Segundo ele, o decreto
colocava o antigo sistema de ensino no papel de um poder imóvel, inflexível, e
inimigo de toda independência, destituído de espaço para os sentimentos
individuais de cada um desses jovens que na Academia ingressavam.
15. A busca por um ensino
intuitivo, “do como vêdes”, é facilmente
identificável no Projeto de Reforma assinado por Bernardelli e Amoêdo em
fevereiro de 1890. A 5o sessão, intitulada Ateliers evidencia a
importância que seus autores atribuíam à possibilidade dos alunos terem um
espaço de formação da individualidade artística,
operada com independência, mas sob as vistas de um mestre. Não negamos que a
busca originalidade esteve sempre presente no sistema de ensino acadêmico, mas
as noções de individualidade e a de originalidade só aparecem introduzidas como
um critério escolar após a reforma de 1890.
16. Ainda nesse sentido,
existe outra passagem no Relatório de Rodolpho Bernardelli ao Ministro
que merece ser destacado:
17. Também foi condenado o ensino especial da esthetica [presente na Academia]. O critério do bello formar-se-ha na consciência
do alunno, si for um espirito
capaz de synthese [...] formar-se-ha
espontaneamente com a summa das doutrinas que professores habilitados lhe forem
ministrando em cada matéria; nascerá como uma opinião individual da
simples convivencia e pratica com o alto objecto de sua estudiosa applicação.[7]
19. A passagem justifica a
ausência do ensino da estética, apontando que o critério do ‘que é ou não belo’
como algo individual. Não deveria haver, portanto, nenhum pressuposto. Na nova
Escola, não existia espaço para um pensamento como aquele registrado por
Ernesto Gomes Moreira Maia, em 1888, ano que fora nomeado Diretor da Academia,[8]
para quem a missão da Academia era a de “votar-se ao verdadeiro culto da forma esthetica da arte clássica e da sua propagação”.
20. Outro ponto significativo
do relatório do Diretor da ENBA é a forma como ele opõe ao ensino ministrado
anteriormente na Academia àquele formulado no Projeto de Reforma de
Bernardelli-Amoêdo, e que foi mantido nos Estatutos de 1890, que propunha uma
estrutura seriada de ensino, pensada de forma progressiva. Nas palavras do
próprio Bernardelli:
21. Na organização didática
dos novos estatutos reina, sobretudo, o primeiro dos elementos de que deriva a efficácia de qualquer estudo - a sistemática.
22. Como conjunto teórico, ahi está preparada a seriação dos conhecimentos, de maneira
que o aluno progrida dos mais accessiveis aos mais
difíceis, na razão do desenvolvimento das faculdades e o tempo dos exercícios.[9]
23. O Projeto de Reforma, conhecido
pelo nome Bernardelli-Amoêdo, dividia a estrutura de ensino da seguinte forma,
como que em seções ou departamentos: I. Curso preparatório
para pintores, escultores e gravadores; II. Curso preparatório
para arquitetos; III. Cursos orais; IV. Escola técnica, para
pintores, escultores e gravadores, com aulas específicas para esses
segmentos, além de modelo vivo e outro curso para arquitetos. E, por fim, uma
seção intitulada V. Ateliers. Os Estatutos mantiveram a proposta dos dois
artistas, apresentando, no entanto, uma estrutura mais simplificada, constando
de: I. Curso Geral, com duração de três anos, e composto por disciplinas
práticas e teóricas; II. Cursos Especiais, com duração de três anos,
sendo o primeiro ano dedicado ao estudo do Modelo Vivo e os dois últimos à
pintura ou escultura, conforme a Tabela Comparativa abaixo.[10]
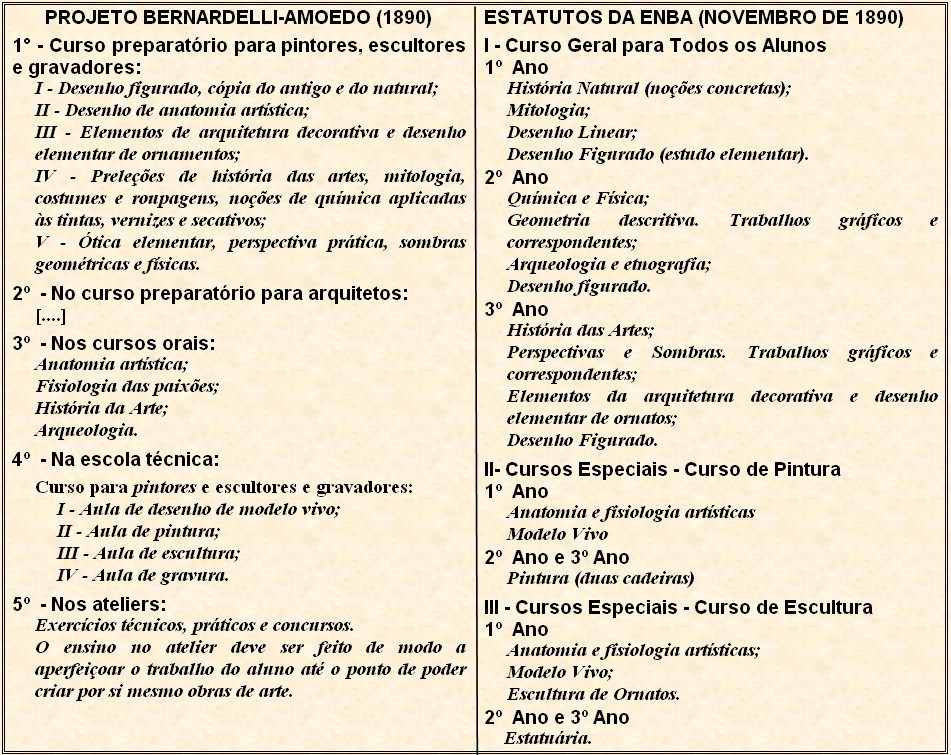
24. Tal forma de se conceber o
ensino da arte se opunha àquela que vigorava com base nos estatutos
precedentes, aqueles da Reforma Pedreira, ocorrida em 1855[11].
25. Cabe aqui mencionar que
alguns itens dos Estatutos de 1855 [cf. link] sofreram alterações entre o ano que
entram em vigor e 1890, afinal, estamos falando aqui de um intervalo de 35
anos. E ainda que o sistema de ensino da AIBA tenha sido taxado de
'estacionário', as mudanças certamente ocorreram. Existe, porém, certa dificuldade
em rastrear essas mudanças. Como o próprio Bernardelli coloca em seu relatório:
26. A única legislação da
casa eram os anachronicos estatutos de da Lei. n.
1603 de 14 de maio de 1855, assignados pelo Ministro Pedreira, era escassa em
recursos; não tinham a elasticidade indispensável ás
molas administrativas. Não lhe valiam pendiculos
diversos que espaçadamente se lho foram
acrescentando.
27. Bem digna imagem de
semelhante ruína era aquele pobre canhanho, mal asseiado
e roto, metade impresso, metade rabiscado a penna e a
lápis, infestado de retalhos de jornal, que foi por longuíssimos anos o raro e
único exemplar completo dos estatutos acadêmicos, tristíssimo documento que o
derradeiro chefe administrativo da Academia das
Belas Artes teve o bom gosto de consumir.[12]
28. Ao comparamos os Estatutos
de 1855 com os de 1890, o que mais desperta a atenção nas duas estruturas é
a existência, nesses últimos, do Curso Preparatório, ou seja, a
exigência do aluno levava um considerável tempo, ao todo 3 anos de ensinos
práticos e teóricos, para chegar ao Curso Especial, onde finalmente
teria acesso aos ateliês de pintura, escultura e gravura.
29. Já a progressão dos
alunos, antes e após a Reforma Pedreira, estava longe de ser tão
sistematizada. Para frequentar a classe de Pintura Histórica bastava o aluno ter sido aprovado em Matemáticas Aplicadas, e
frequentado com proveito Desenho Geométrico e Figurado. Para seguir para a
classe de Pintura de Paisagens o processo era ainda mais simples, bastava à
aprovação na classe de Matemáticas Aplicadas e Desenho Geométrico. O aluno não
se via obrigado a cursar Desenho Figurado para somente depois frequentar a
classe de Pintura de Paisagens, embora pudesse cursar as duas ao mesmo tempo,
caso o desejasse.[13]
30. Na realidade, ao lermos o
relatório escrito em 1891 por Rodolpho Bernardelli, a concomitância entre
disciplinas parece ter sido ainda maior nos anos de 1880, quando o artista atua
como professor de estatuária na Academia. Diz ele:
31. A
Academia era o academicismo, foi dito.
32. Nem isso era... [...] No terreno dos princípios a velha
instituição era o academismo - em derrota. [...] Praticamente,
concretizando-se em ensino, a desordem era mais flagrante e a mais funesta.[...] A
incoerência rudimentar dos estatutos acadêmicos consummava
o ideal de organização, que eram os estudos.
33. Não havendo
classificado os trabalhos n'uma série evolutiva que fossem ao mesmo tempo a
ordem e a facilidade, só o improviso dos diretores determinava aos alunos o
seguimento do curso.
34. Sucedia que era
proferido dentro da lei para primeira applicação de actividade dos alunnos o estudo
do desenho figurado, como poderia dentro da mesma lei ser preferido o da
pintura histórica.[14]
35. As disciplinas que no Projeto
e nos Estatutos de 1890 antecediam o ensino no atelier
de pintura poderiam ser cursadas simultaneamente às classes de Pintura
Histórica e de Pintura de Paisagem, na antiga Academia, uma vez que não eram
pré-requisitos.
36. No que diz respeito a essa
sistematização progressiva do ensino, podemos pegar, como caso especifico, a disciplina de Modelo Vivo, que passou por
mudanças significativas com os estatutos de 1890, a fim de possibilitar o
aperfeiçoamento artístico dos alunos.
37. Segundo os Estatutos de
1855 - a exemplo da Escola de Belas Artes francesa antes da famosa reforma
de 1863[15] -, a aula
de Modelo Vivo deveria ser regida a cada semana por um professor. Só eram
admitidos na turma, os alunos que por suas habilitações eram designados pelo
corpo acadêmico no principio
do ano. Essa disciplina deveria ser cursada simultaneamente áquela
de Pintura Histórica, como podemos averiguar na
Secção X, que trata da Pintura Histórica, na seguinte frase: “Os alunos
deveriam pintar grupos de bustos, estátuas antigas e se exercitarem na aula de
modelo vivo e no estudo da anatomia e physiologia”.
Ou seja, era um conhecimento que podia ser adquirido simultaneamente ao da
pintura, não anterior a ela.
38. Já nos Estatutos de
1890, a classe de Modelo Vivo deveria
obrigatoriamente ser cursada antes de o aluno chegar aos dois anos finais do
Curso Especial, dedicados exclusivamente à pintura. Além disso, um único
professor era responsável pela disciplina. Nesse ponto, as mudanças colocadas
nos Estatutos de 1890 referentes ao estudo do Modelo Vivo se aproximam aos
princípios que nortearam as mudanças desse mesmo ensino na reforma da École
de Beaux Arts, de 1863,
como coloca Viollet le Duc,
um dos principais articuladores da reforma de 1863, nas páginas da Gazete des Beaux Arts:
39. L´enseignement
de la figure à l´École des Beaux-Arts, dessin corrigé par sept maîtres à tour,
trouble plus les jeunes gens qu´il ne leur profite; chaque maître voit la
nature à sa manière et l´interprèt suivant certaines méthodes qui lui
sont particulières. Cet écletisme ne peut rien produire de bon chez de jeunes
esprits qui demandent une direction, non des directions [...].[16]
40. Verifica-se, então, que
ensino do Modelo Vivo adquiriu após a Reforma de 1890 uma maior
importância. A disciplina era obrigatória a todos os alunos de pintura, não
somente aos “escolhidos”; era uma aprendizagem prévia ao estudo da pintura;
deveria ser regida por somente um professor - e não por um professor diferente
a cada semana - , o que certamente facilitava uma
orientação única para os alunos.
41. São muitos os pontos a
serem abordados quando se tem como pretensão analisar as propostas contidas no Projeto
Bernardelli-Amoêdo e as suas continuidades nos estatutos da Escola Nacional
de Belas Artes. Tais propostas, sobretudo aquelas que serão postas em prática
no cotidiano da Escola ao longo dos anos finais do século XIX, nos ajudam a
compreender as mudanças pelas quais passou o sistema de ensino artístico nesse
período e a produção artística que nele foi gerada. Não oferecemos com a nossa
fala mais do que uma breve pincelada sobre alguns tópicos, mas esperamos,
contudo, que ela tenha minimamente revelado que a reforma da Academia não foi,
como disse uma vez Gonzaga Duque, uma mera mudança no nome da instituição.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Documentos e artigos do século
XIX
Estatutos da Escola Nacional
de Bellas Artes e do Conselho Superior de Belas Artes, 1890. Disponível em: http://www.dezenovevinte.net/documentos/docs_primeira_republica_arquivos/1890_estatutos.pdf
Estatutos da Academia Imperial
das Bellas Artes, 1855. Disponível em: http://www.dezenovevinte.net/documentos/estatutos_1855.pdf
Relatório de Rodolpho
Bernardelli ao Ministro da Instrução Pública, Correios e Telégrafos, 1891.
Disponível em: http://www.dezenovevinte.net/documentos/rm
1891.htm
Relatório de Ernesto Gomes
Moreira Maia ao Ministério do Império, 1888. Disponível em: http://www.dezenovevinte.net/documentos/relatorios_ministeriais/rltr_mntr_1888anexo.htm
Projeto
de Reforma da Academia. Gazeta de Notícias , Rio de Janeiro -
Sexta-feira, 6 jun. 1890, p. l. Autoria de Rodolpho Bernardelli e Rodolpho
Amoêdo. Disponível em: http://www.dezenovevinte.net/artigos_imprensa/pardalmallet_projetoba.htm
VITET,
M.. De l´enseigenment des arts du dessin. Revue des deux mundes, nov.
1864, p. 74-107. Disponível em: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k35544s.image.hl.r=vitet.f1046.langPT
VIOLLET-LE-DUC,
E. L´enseignement des arts: il y a qualque chose à feire. Gazette des
Beaux-arts, 1862. Disponível em: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k203076w.r=Viollet-le-duc.langPT
Livros e Artigos
BONNET, Alain. La réforme de l'Ecole des beaux-arts de 1863: Peinture et
sculpture. Romantisme, Année 1996, Volume 26, Numéro 93 p. 27-38;
BOUILLON,
Jean-Paul et al. La Promenade du Critique influent - Anthologie de la
Critique d`Art en France 1850-1900. Paris : Hazan, 1990.
DAZZI, Camila. O Projeto de
Reforma Bernardelli-Amoêdo e os Estatutos da ENBA: mudanças e continuidades.
DAZZI, Camila; VALLE, Arthur (Org.). Oitocentos - Arte Brasileira do
Império à República. Tomo II. Rio de Janeiro: UFRRJ/DezenoveVinte,
2010 (no prelo).
DAZZI, Camila; VALLE, Arthur.
Modernidade na Obra e na Auto-Imagem de Henrique
Bernardelli. Anais do XIX Encontro da ANPAP - ‘Entre Territórios’. Salvador:
EBA/UFBA, 2010.
ENFERT,
Renaud d`. Bonnet (Alain) - L’enseignement des arts au XIXe siècle. La réforme
de l’École des beaux-arts de 1863 et la fin du modèle académique. Histoire
de l’éducation [En ligne], 114 | 2007, mis en ligne le 23 mars 2009.
FERNANDES, Cybele Vidal Neto. Os
caminhos da arte: ensino artístico na
Academia Imperial de Belas Artes. Rio de Janeiro: programa de pós-graduação em
História Social, IFCS/UFRJ, 2001. (Tese de
doutorado).
SEGRÉ,
Monique. L'Art comme institution, l'École des Beaux-Arts, 19ème-20ème
siècle. Paris: Editions de l'ENS-Cachan, 1993.
VAISSE,
Pierre. Considérations sur la Seconde République et les beaux-arts, Revue
d'histoire du XIXe siècle, 1 | 1985, [En ligne], mis en ligne le 20 juin
2005.
VALLE, Arthur. A pintura da
Escola Nacional de Belas Artes na Primeira República (1890-1930): da
formação do artista aos seus modos estilísticos. Rio de Janeiro:
PPGAV/EBA/UFRJ, 2007.
______________________________
* Camila Dazzi é Doutoranda em
História da Arte pelo PPGAV da EBA/UFRJ e Mestre em História da Arte pelo
IFCH/UNICAMP. Juntamente com Arthur Valle, é Editora Respensável
da Revista 19&20
e Coordenadora do Site DezenoveVinte. Leciona
História da Arte e Patrimônio Cultural nos cursos de Graduação e Pós-Graduação
do CEFET/RJ-UnED Nova Friburgo. CV Lattes.
[1]
Cópias digitalizadas de documentos originais pertencentes à Biblioteca Nacional
do Rio de Janeiro, disponibilizadas pelo Brazilian Government Document Digitization, ligado ao Latin
American Microfilm Project do Center for Research Libraries, que podem ser
acessadas diretamente no seguinte link.
[2]
Poderíamos aqui citar vários textos que já se tornaram referência para os
estudiosos da arte do século XIX no Brasil, mas aqui mencionarei somente um
exemplo, trata-se do livro Arte, privilégio e distinção: artes
plásticas, arquitetura e classe dirigente no Brasil, 1855/1985, de José Carlos
Durand, publicado em 1989.
[3] Para
se ter uma noção aprofundada do posicionamento desses críticos, ler: SILVA,
Rosangela de Jesus. A crítica de arte de Angelo
Agostini e a cultura figurativa do final do Segundo Reinado. Campinas:
programa de Pós-graduação em História da Arte/IFCH/UNICAMP, 2005.
(Dissertação de mestrado) e GRANJEIA, Fabiana de Araujo
Guerra. A critica de Arte
em Oscar Guanabarino: Artes plásticas no século
XIX. Campinas: Programa de Pós-graduação em História IFCH/UNICAMP, 2005.
(dissertação mestrado).
[4]
Relatório do Rodolpho Bernardelli, Diretor da Escola Nacional de Belas Artes,
ao Ministro da Instrução Pública, Correios e Telegraphos,
João Barbalho Uchôa Cavalcanti, referente aos anos de 1889 e 1890, redigido em
maio de 1891. p. 13-14. Disponível em: http://www.dezenovevinte.net/documentos/rm
1891.htm
[5] Uma
antologia que fornece uma boa ideia da concepção dos críticos de arte da época
sobre o que deveria ser um artista moderno, é: BOUILLON, Jean-Paul et al. La Promenade du Critique
influent - Anthologie de la
Critique d`Art en France 1850-1900. Paris : Hazan, 1990. Em relação ao meio artístico carioca, ver
DAZZI, Camila; VALLE, A. Modernidade na Obra e na Auto-Imagem
de Henrique Bernardelli. Anais do XIX Encontro da ANPAP - ‘Entre
Territórios’. Salvador: EBA/UFBA, 2010.
[6] M.
Vitet: De l´enseigenment des arts du dessin. Revue des deux mundes, nov.
1864, p. 74-108.
[7] Op.
cit. p. 18.
[8] Por
Decreto de 9 de março foi nomeado Diretor da Academia das Belas Artes, na vaga
deixada pelo Conselheiro Antonio Nicolau Tolentino, a
quem se concedera, a 30 de maio do ano findo, a exoneração que tinha pedido, o
Vice-Diretor Conselheiro Ernesto Gomes Moreira Maia, jubilado em 30 de agosto
no lugar de professor de desenho geométrico. Relatórios Ministeriais sobre a Academia Imperial das
Belas Artes. Transcrição de Arthur
Valle e Camila Dazzi. Texto com grafia atualizada, disponível em: http://www.dezenovevinte.net/documentos/relatorios_ministeriais/rltr_mntr_1888anexo.htm, p.
63.
[9] Op.
Cit., p. 18.
[10] Uma
comparação mais demorada sobre a Estrutura do Projeto de Reforma assinado por
Rodolpho Bernardelli e Amoêdo e os Estatutos da Escola Nacional de Belas Artes
- 1890, é feita no texto: DAZZI, Camila. O Projeto de Reforma
Bernardelli-Amoêdo e os Estatutos da ENBA: mudanças e continuidades. DAZZI,
Camila; VALLE, Arthur (Org.). Oitocentos - Arte Brasileira do Império à
República. Tomo II. Rio de Janeiro: UFRRJ/DezenoveVinte,
2010.
[11]
Os Estatutos da Academia Imperial de Belas Artes (1855) estão disponibilizados
no site DezenoveVinte, a partir de uma
fotocópia do documento pertencente ao D. João VI/EBA/UFRJ. Endereço do site: http://www.dezenovevinte.net/documentos/estatutos_1855.pdf
[12] Op.
cit. p. 16.
[13] Var
os Estatutos de 1855, conforme mencionado logo acima.
[14] Op.
cit. p. 14-15.
[15] Para
compreender a reforma de 1863, pela qual passa a École des
Beaux Arts, sugerimos a
leitura do livro Monique Segré. L'Art comme institution, l'École des Beaux-Arts,
19ème-20ème siècle. Paris: Editions de l'ENS-Cachan,
1993. Também interessantes são os artigos: ENFERT, Renaud d’. Alain Bonnet - L’enseignement des arts au XIXe siècle. La
réforme de l’École des beaux-arts de 1863 et la fin du modèle
académique . BONNET, Alain. La réforme de l'Ecole des beaux-arts de
1863: Peinture et sculpture. VAISSE, Pierre. Considérations sur la Seconde
République et les beaux-arts.
[16]
Viollet-le-Duc, E: L´enseignement des arts: il y a qualque chose à feire. Gazette
des Beaux-arts, mai 1862. (1o artigo).